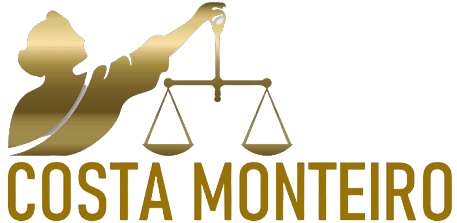Em um dia comum no presídio feminino, as detentas observam, de longe, uma presa que acaba de chegar: ela tem os cabelos longos, corpo e voz femininos, e ainda se vê algo de esmalte em suas unhas. Seria apenas mais uma presa que inicia o cumprimento de pena se as detentas não soubessem, de antemão, que a pessoa que chega é transexual. Como pensam e agem as mulheres que estão nas celas ou trabalham no presídio? Como pensa e o que sente a mulher transexual que aporta naquela prisão? As impressões seriam diferentes se fosse um homem trans chegando a uma penitenciária masculina?
Se os problemas típicos das prisões brasileiras já representam um grande desafio – a exemplo da superlotação, da insalubridade das instalações e da existência de atividades criminosas dentro dos presídios –, as questões que envolvem presos e presas transgênero trazem um complicador para o debate. Discussões sobre a dignidade no cumprimento da pena ganham contornos adicionais, e uma nova pergunta se soma às antigas: como deve ser o tratamento à população transgênero nos presídios?
Em homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro, esta reportagem em duas partes busca apresentar olhares diferentes – e até mesmo divergentes – sobre a complexa questão do encarceramento de pessoas trans no Brasil, a partir de quatro temas principais: a identificação social e civil, a assistência à saúde na prisão (assuntos desta primeira parte), a questão da segregação e a recuperação (abordados na segunda parte).
Leia também: Segregar ou integrar, um dilema sobre convivência e intolerância na prisão de pessoas transgênero
O texto é ilustrado com fotos feitas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Sebastião Reis Júnior em visita ao Centro de Detenção Provisória Pinheiros II, em São Paulo.
A travesti que foi transferida da ala masculina para a feminina
O ponto de partida desta reportagem é a decisão do ministro Rogerio Schietti Cruz que, em 2019, garantiu a uma travesti em regime semiaberto o direito de pernoitar na ala feminina do Presídio Estadual de Cruz Alta (RS). Antes da decisão, a travesti estava alojada na ala masculina – não havia no local ala ou cela específica para o público LGBT+.
Na decisão, Schietti lembrou que, de acordo com os Princípios de Yogyakarta, a orientação sexual e a identidade de gênero são fundamentais para a dignidade e a humanidade de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso.
Para o magistrado, o contexto dos autos indicava que a travesti estava em ambiente absolutamente impróprio para alguém que se identificava como transexual feminina, sendo necessário colocá-la em local que lhe preservasse a integridade completa, nos termos previstos pelo artigo 5º, incisos XLVII e XLIX, da Constituição.
De acordo com Schietti, apesar de não haver, no presídio, local específico para apenados do público LGBT+, não seria tolerável manter a travesti na ala masculina, colocando-a em iminente risco de sofrer violência psíquica, moral, física e sexual.
Os normativos que orientam o tratamento de presos LGBT+
Um ano após essa decisão, em 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução 348/2020, que passou a estabelecer diretrizes e procedimentos com relação à população carcerária LGBT+. O normativo prevê o reconhecimento de pessoas desse grupo a partir de autodeclaração, que deve ser colhida pelo juiz em audiência, em qualquer fase do processo.
Também em 2020, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) publicou nota técnica com definições sobre a custódia de presos LGBT+, na qual é citada a decisão do ministro Schietti sobre a transferência da detenta travesti no Rio Grande do Sul. Segundo o Depen, à época da edição da nota técnica, esse grupo de presos era formado por 10.161 pessoas – entre elas, 1.027 travestis, 611 mulheres trans e 353 homens trans.
A nota do Depen indica, entre outros aspectos, procedimentos para o ingresso na prisão, registro do nome social, cuidados nas inspeções e revistas pessoais, necessidade de acesso do público LGBT+ à assistência médica, oportunidades de trabalho e educação.
Os normativos são um marco importante no tratamento de pessoas transgênero no sistema carcerário, mas a realidade tem acompanhado as normas? Há ainda questões em aberto?
O meu nome é Raica
Para um preso ou presa transgênero, o momento de registro da entrada no presídio não é simples burocracia: entre vistorias, preenchimento de papéis e coleta de impressões digitais, esses detentos começam a perceber como, de fato, serão tratados na prisão. Uma das primeiras faces dessa percepção é a identificação social, que envolve não só a identificação civil – nome social e alteração de registro em cartório –, mas todos os aspectos sobre a expressão externa da pessoa de acordo com o gênero em que se reconhece.
No caso da dona de pensão e produtora de eventos Raica Souza, a sua identificação como travesti foi ignorada quando foi presa provisoriamente, em 2017: além de ser inspecionada nua ao lado de presos homens, ela e outras travestis foram motivo de deboche por parte dos agentes prisionais – que as chamavam, entre outros termos depreciativos, de “mulher de tromba”.
Ainda segundo Raica, alguns agentes questionavam por que as travestis, estando em um alojamento masculino, não foram obrigadas a cortar o cabelo.
Primeira pessoa transexual a ter seu nome social reconhecido pela OAB do Rio de Janeiro, em 2017 – mesmo ano em que Raica Souza buscava fazer valer a sua identificação social no cárcere –, a advogada Maria Eduarda Aguiar conhece profundamente a importância do respeito à autopercepção da pessoa trans, dentro ou fora das celas.
Segundo a advogada – que também integra um conselho estadual LGBT+ ligado à Secretaria de Segurança Pública do Rio –, ainda são comuns os relatos de discriminação à identificação de presos transgênero, em especial pelos próprios policiais penais. “Se aqui fora a gente já tem problemas com desrespeito, você imagina as pessoas que estão privadas de liberdade – sofrem muito mais violações do que a gente”, afirma.
A advogada conta que chegam ao conhecimento do conselho situações como a de presas trans que são colocadas no corredor pelos agentes, para que “desfilem”; ou que são chamadas de “viados” e, se reclamarem, apanham. Na maioria das vezes, aponta a defensora, essas pessoas preferem não formalizar denúncias porque sabem que estão em situação de vulnerabilidade em relação aos agentes estatais e temem sofrer represálias.
“Deveria haver o treinamento geral dos agentes penitenciários sobre direitos humanos e população LGBT+. Não é porque as pessoas estão presas que elas podem ser desrespeitadas e maltratadas: a pena pelo erro que elas cometeram já é suficiente”, diz Maria Eduarda.
Atuando há mais de dez anos como promotora de execução penal e controle externo da atividade policial em Marabá (PA), Daniella Dias lembra que chamar alguém pelo seu nome social não traduz mera futilidade, mas sim o reconhecimento de dignidade para as pessoas presas. Segundo a promotora, ao entrar no presídio, esse público sofre uma dupla privação: a primeira, de liberdade; a segunda, de reconhecimento de sua própria personalidade.
“Precisamos fazer um trabalho contínuo de divulgação do sistema que protege esse público, de sensibilização por meio de seminários, oficinas, palestras e cursos que contemplem a análise do que é a LGBTfobia e, acima de tudo, uma mudança de postura da Polícia Civil, da Polícia Militar e dos policiais penais, para que tenham um amplo conhecimento e transformem posturas e vivências de mundo no sentido de respeitar esse público”, aponta Daniella Dias.
As dificuldades na fiscalização do respeito às identidades
Na visão de Bruna Benevides, secretária de articulação política da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) – uma das entidades responsáveis por auxiliar o CNJ na edição da Resolução 348/2020 –, o reconhecimento civil é um dos principais desafios no tratamento da população LGBT+, mesmo porque alguns documentos dos detentos são retidos.
Segundo a representante da Antra, também há dificuldades no próprio esclarecimento do público prisional trans sobre o direito ao nome social e à alteração de registro civil. “A maioria dessas pessoas está em situação de vulnerabilidade social antes de entrar no cárcere e também fica invisível em um grupo como a população trans. Por conta disso, vemos a consequência do desconhecimento sobre o direito ao uso do nome social ou mesmo à retificação de nome e gênero”, ressalta.
Bruna Benevides ressalta que associações como a Antra têm buscado parcerias com o setor público para que novos documentos sejam emitidos para presos e presas trans que o desejarem, mas ainda existem muitas barreiras representadas pelos gestores do sistema penitenciário e pelos órgãos de justiça.
“É algo que precisa ser melhor conduzido para que as pessoas que se encontram nesse sistema possam exigir respeito, porque essa é uma política que representa muito para a nossa comunidade. Em uma audiência de custódia, por exemplo, há diversos casos em que o nome social não foi considerado em nenhuma parte do processo, e a pessoa acaba sendo tratada como se fosse, digamos, um homem”, aponta a representante da Antra.
Já segundo a advogada Maria Eduarda Aguiar, enquanto as ações para reconhecimento da identidade civil – uso do nome social ou modificação do registro – são realizadas por meio de acordos com o poder público e a partir de denúncias de descumprimento dos normativos do CNJ, a fiscalização regular do respeito à identificação trans dos detentos é tarefa muito mais difícil, especialmente porque, nas visitas do conselho LGBT+, há uma preparação prévia do ambiente, dos profissionais do presídio e dos próprios presos transgênero.
“Existe uma dificuldade imensa de você conseguir fazer uma fiscalização para saber a real situação daqueles presos. Normalmente, quando você vai fazer a visita, a coisa é um pouco maquiada, para que você não perceba o dia a dia deles”, afirma a advogada.
O ponto de vista do diretor do presídio
No caso do Centro de Detenção Provisória Pinheiros II, em São Paulo, o diretor, Ernani Izzo, diz que a unidade tem realizado um trabalho de respeito à identidade LGBT+, permitindo, por exemplo, que as internas transgênero vistam as roupas que desejarem e utilizem o nome social.
Izzo conta que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo mantém convênio com o Instituto de Identificação da Polícia Civil, responsável pela emissão dos documentos de identidade. No âmbito desse convênio, foram criados postos de atendimento dentro dos presídios estaduais, nos quais o preso pode solicitar a inclusão do nome social. “Quando o preso sai daqui, já sai com o nome social no RG”, afirma.
Segundo o diretor, os policiais penais são orientados a respeitar a expressão de identidade e a tratar as pessoas trans pelo nome que escolheram. “Hoje em dia, existem treinamentos para os servidores da segurança pública sobre a forma correta de tratamento”, ressalta.
A atenção aos cuidados de saúde
Ao lado dos desafios que envolvem a identidade e a expressão social das pessoas transgênero nos presídios, existem questões de saúde e acompanhamento médico que atingem diretamente essa população.
Uma mulher transexual pode escolher passar por um procedimento hormonal para ganhar características físicas do gênero feminino; pode, ainda, decidir implantar silicone nos seios e em outras partes do corpo. Já o homem trans também pode ser submetido à administração de hormônio. E, em ambos os casos, pode haver a recomendação de assistência psicológica ou psiquiátrica. Se essas pessoas são presas, como fica o atendimento de saúde?
Para o CNJ, nos termos da Resolução 348/2020, o público trans nos presídios mantém todos esses direitos; na realidade do sistema prisional, a situação ainda parece exigir atenção.
De acordo com a advogada Maria Eduarda Aguiar, a primeira preocupação dos grupos de proteção aos presos transexuais é o fornecimento do chamado PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) e a realização de exames para detecção de doenças sexualmente transmissíveis.
Esses cuidados não decorrem dos preconceitos tradicionais arraigados na sociedade – que costumava culpar os homossexuais pela propagação do HIV –, mas de informações estatísticas: segundo a representante da Antra, enquanto a ocorrência da Aids é de 1% entre a população em geral, no caso das mulheres trans, esse percentual sobre para 40%.
“Assegurar o acesso à PrEP e à PEP, que são novas tecnologias de prevenção, e também a continuidade do uso da medicação para quem vive com HIV é fundamental para a sobrevivência dessas pessoas no cárcere”, enfatiza Bruna Benevides.
Outra questão urgente citada pela secretária da Antra é a criação de protocolos de atenção e cuidados em saúde mental também para pessoas que não estejam em processo de transição. Segundo ela, é comum a visão de que as pessoas trans só buscam cuidados em saúde mental quando estão querendo fazer algum tipo de modificação corporal; ou de que eventual sofrimento mental das pessoas trans se deve apenas ao fato de serem trans, “ignorando o ambiente, as violências e as violações aos direitos humanos que acontecem”.
Para a promotora Daniella Dias, a população trans deve ser mais bem integrada à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, a cargo do Ministério da Saúde. Nesse esforço, diz ela, também é necessário um treinamento mais efetivo das equipes de saúde que atuam em unidades prisionais quanto aos temas de diversidade sexual, com a finalidade de derrubar barreiras e preconceitos.
“Há muito desconhecimento, há muito tabu. Essa formação continuada é necessária; sem ela, um médico não poderá atender essa pessoa de forma digna. Talvez esse profissional esteja cometendo discriminação, racismo, intolerância, sem saber. Esse é um dos maiores desafios”, afirma.
O anticoncepcional e a transição de gênero
Em seu tempo de prisão preventiva, Raica Souza viu de perto as dificuldades de acesso ao acompanhamento médico. Ela conta que não precisou de nenhum cuidado específico de saúde por ser travesti – ela não tem silicone e não precisou de aplicação hormonal durante o período do cárcere –, mas relata que outras mulheres trans tiveram dificuldade para receber tratamento, inclusive contra a Aids.
A produtora de eventos também via dificuldades para as presas que tinham silicone. Certa vez – lembra –, uma travesti teve necrose em um dos seios e, por falta de acompanhamento médico, passou a viver na prisão com apenas uma das próteses.
Para Raica Souza, além dos cuidados específicos com a saúde do corpo e do acompanhamento hormonal, seria fundamental a assistência à saúde mental das presas trans. “Um psicólogo dentro do presídio ia ajudar bastante. Sei que já teve caso de suicídio no presídio em que eu fiquei”, afirma.
De acordo com o CDP Pinheiros II, atualmente, existe acompanhamento de saúde à pessoa trans desde que ela chega ao presídio. No caso de problemas com as próteses de silicone, a direção informa que a presa é encaminhada ao pronto-socorro e, na sequência, ao Hospital das Clínicas de São Paulo, para que receba atenção médica especial.
Quanto aos procedimentos de hormonização, segundo Ernani Rizzo, há problemas de compreensão dos próprios presos desse grupo sobre qual deveria ser o tratamento adequado em situações como a transição de gênero.
“Na unidade, as presas trans afirmam que gostariam de dar continuidade ao tratamento hormonal. Só que, quando perguntamos que tratamento recebiam, elas respondem que usavam a pílula anticoncepcional”, afirma. O tratamento com anticoncepcionais não é indicado pela comunidade médica para o procedimento de transição de gênero.
Ernani Rizzo conta que, nesses casos, a unidade orienta a presa trans sobre a necessidade de uma análise médica mais aprofundada para que, a partir dessa avaliação, o profissional de saúde possa indicar o tratamento adequado.
“Sem prescrição médica, elas não tomam nada. Não autorizamos que, por exemplo, a família simplesmente traga pílula anticoncepcional para a presa, porque isso vai causar efeitos colaterais adversos”, pondera o diretor.