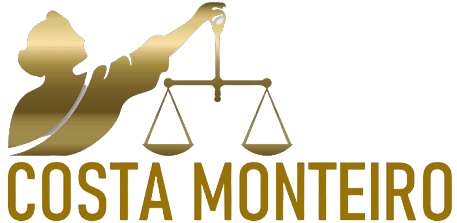Se a sociedade deseja um combate rápido e efetivo ao crime, por qual razão não é permitido que a polícia invada uma casa a partir de qualquer suspeita, ou que o celular de uma pessoa seja apreendido por decisão do investigador para a verificação de suposto delito? A resposta está no Estado Democrático de Direito, que garante, a um só tempo, a submissão de todos à lei e a proteção dos direitos individuais – como a liberdade, a intimidade, a ampla defesa e o devido processo legal.
Esse sistema de proteção tem base principal na Constituição, cujo artigo 5º, inciso LVI, proíbe a utilização, no processo, de provas obtidas por meios ilícitos. O mesmo artigo estabelece a casa como asilo inviolável, salvo em situações como o flagrante delito ou a entrada, durante o dia, por determinação judicial (inciso XI); e o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas (inciso XII). Como consequência, todo o sistema de persecução penal precisa respeitar determinados limites, para que as provas não venham posteriormente a ser consideradas ilícitas.
Entretanto, o crime não conhece limites e está sempre modificando suas táticas para não ser descoberto, enquanto a polícia busca desenvolver novos métodos de investigação. Nessa corrida, uma linha – muitas vezes tênue – separa a legalidade da ilegalidade nos atos investigatórios.
O Judiciário é continuamente acionado para se pronunciar sobre eventuais nulidades nas provas, decorrentes de vícios em procedimentos policiais. As decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre os meios de obtenção de provas são o objeto desta matéria especial.
Ilegalidade em diligências no campo digital
A comunicação por celulares e pela internet é um dos fenômenos modernos mais importantes nessa relação antagônica entre as novas práticas criminosas e os limites da investigação policial. Em 2018, por exemplo, a Sexta Turma declarou nula decisão judicial que autorizou o espelhamento do aplicativo WhatsApp, por meio da página WhatsApp Web, como forma de obtenção de prova em uma investigação sobre tráfico de drogas.
Para o colegiado, entre outros fundamentos, a medida não poderia ser equiparada à interceptação telefônica, já que esta permite a escuta apenas após autorização judicial, ao passo que o espelhamento possibilita ao investigador acesso irrestrito a conversas registradas antes, podendo, inclusive, interferir ativamente na troca de mensagens entre os usuários.
Como consequência, a turma anulou provas obtidas pela polícia após a apreensão e o espelhamento do celular do investigado sem que, em relação ao uso do WhatsApp Web, ele tivesse dado o seu consentimento.
“Para que ao caso de espelhamento via QR Code fosse aplicável, por analogia, a legislação atinente às interceptações telefônicas, com o propósito de dar suporte à conclusão de que as duas medidas são admitidas pelo direito, seria imprescindível a demonstração, por parte do intérprete, de similaridades entre os dois sistemas de obtenção de provas, sobretudo no que diz respeito à operacionalização e ao acesso às comunicações pertinentes”, afirmou a relatora do recurso, ministra Laurita Vaz (processo em segredo judicial).
Na mesma linha de entendimento, em março deste ano, a Sexta Turma considerou inválida a obtenção de provas a partir de prints da tela do WhatsApp Web. As imagens foram entregues por um denunciante anônimo em caso de suspeita de corrupção (processo em segredo judicial).
Impossibilidade de substituição de chips pela polícia
A Sexta Turma – ao julgar recurso sob a relatoria da ministra Laurita Vaz – entendeu ser ilegal a substituição do chip do celular do investigado por um número da polícia.
Para o colegiado, de modo distinto da interceptação telefônica – em que somente os diálogos entre o alvo interceptado e outras pessoas são captados –, a substituição do chip do investigado por um da polícia, sem o conhecimento do alvo, daria ao investigador a possibilidade de conversar com os seus contatos e gerenciar todas as mensagens – hipótese de investigação que não tem previsão na Constituição nem na Lei 9.296/1996 (processo em segredo judicial).
No REsp 1.630.097, a Quinta Turma estabeleceu que, sem o consentimento do réu ou a prévia autorização judicial, é ilícita a prova colhida coercitivamente pela polícia em conversas mantidas pelo investigado com outra pessoa em telefone celular, por meio do recurso de viva-voz.
No caso dos autos, enquanto os policiais abordavam dois homens que lhes pareceram suspeitos, o celular de um deles recebeu uma ligação. Os agentes teriam exigido que o aparelho fosse colocado no modo viva-voz e ouviram a mãe do suspeito pedir a ele que voltasse para casa e entregasse certo “material” a uma pessoa que o aguardava. Na sequência, os policiais foram até a residência e encontraram 11 gramas de crack, acondicionados em 104 embalagens plásticas.
Segundo o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, a abordagem descrita no processo resultou em obtenção ilícita de prova, já que o ato de colocar o telefone em viva-voz foi involuntário e coercitivo, gerando verdadeira autoincriminação. O relator lembrou que qualquer tipo de prova contra o réu que dependa dele mesmo só vale se o ato for feito de maneira voluntária e consciente.
“A prova está contaminada, diante do disposto na essência da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), consagrada no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que proclama a nódoa de provas, supostamente consideradas lícitas e admissíveis, mas obtidas a partir de outras declaradas nulas pela forma ilícita de sua colheita”, apontou o magistrado.
No HC 537.274, a Quinta Turma reforçou que é ilícita a prova oriunda do acesso aos dados armazenados no celular, relativos a mensagens de texto, SMS e conversas por meio de aplicativos, obtidos diretamente pela polícia no momento da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial.
Entretanto, no caso julgado, apesar de não ter havido autorização judicial, foi provado que o acusado permitiu que os policiais acessassem as trocas de mensagens em seu celular, motivo pelo qual o colegiado afastou a ilegalidade no procedimento investigatório. Além disso, havia outras provas capazes de sustentar a condenação.
Necessidade de gravação para entrada em residência
Muitos dos questionamentos sobre licitude de diligências policiais que chegam ao STJ dizem respeito à abordagem pessoal e ao ingresso dos agentes em locais privados – especialmente residências. Sobre esse tema, normalmente, os debates envolvem o direito à inviolabilidade do domicílio e a proteção da intimidade, mas também a constatação de flagrância e a necessidade de ação rápida por parte da polícia.
Em 2021, a Sexta Turma firmou um precedente importante ao definir que os policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito.
No julgamento, o colegiado fixou o prazo de um ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e as demais providências necessárias para evitar futuras situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, resultar em responsabilização administrativa, civil e penal dos policiais, além da anulação das provas colhidas nas investigações.
Segundo o relator do caso, ministro Rogerio Schietti Cruz, a inviolabilidade da moradia é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de sua família, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias.
O magistrado explicou que as circunstâncias anteriores à violação do domicílio devem ser capazes de justificar a diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito. Essa motivação, esclareceu, não pode derivar de simples desconfiança policial, baseada em “atitude suspeita” ou na fuga do indivíduo em direção à sua casa durante ronda ostensiva.
Além disso, Schietti lembrou que são frequentes as notícias de abusos cometidos em operações policiais realizadas em comunidades pobres, de modo que não se poderia atribuir valor absoluto ao depoimento daqueles que são apontados como responsáveis por atos abusivos. Dessa forma, para o ministro, o registro da diligência por meio audiovisual garante não só a proteção dos direitos individuais, mas a legalidade da ação policial para obtenção de provas dentro de residências (processo em segredo judicial).
Denúncia e fuga do acusado não autorizam ingresso na casa
Em posição semelhante, no RHC 89.853, a Quinta Turma estabeleceu que a existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas, somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si só, não configuram razões concretas para autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem a sua autorização ou sem determinação judicial.
De acordo com o ministro Ribeiro Dantas, não se exige apuração profunda, mas apenas uma breve averiguação prévia – por exemplo, uma “campana” para verificar movimentação suspeita na casa.
Em relação ao material passível de apreensão em diligências policiais, a Sexta Turma entendeu que não existe exigência de que o mandado de busca e apreensão detalhe o tipo de documento a ser apreendido, ainda que de natureza sigilosa. Como consequência, o colegiado considerou válida operação policial que apreendeu prontuários médicos no âmbito de investigação sobre cárcere privado mediante internação em casa de saúde, além de maus-tratos contra pacientes.
Segundo o relator do caso, ministro Sebastião Reis Júnior, o artigo 243 do Código de Processo Penal disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão, entre os quais não está o detalhamento do que pode ou não ser apreendido. Já o artigo 240 do código, apontou, apresenta rol exemplificativo dos casos em que a medida pode ser determinada, no qual se encontra a hipótese de arrecadação de objetos necessários à prova da infração, não havendo qualquer ressalva de que os documentos não possam ser relativos à intimidade ou à vida privada do indivíduo.
“O sigilo do qual se reveste o prontuário médico pertence única e exclusivamente ao paciente, e não ao médico. Assim, caso houvesse a violação do direito à intimidade, haveria de ser arguida pelos seus titulares (pacientes), e não pelo investigado”, afirmou o ministro (processo em segredo judicial).
Ainda no tocante ao material apreendido, no RHC 59.414, a Quinta Turma definiu que a ausência de lacre em todos os documentos e bens recolhidos pela polícia não torna automaticamente ilegítima a prova obtida. O entendimento foi fixado em processo por formação de quadrilha, corrupção e outros crimes, no qual um dos réus alegou que, quando os policiais federais estiveram na sede de sua empresa para cumprir mandados de busca e apreensão, não lacraram os objetos recolhidos, como computadores, documentos e discos rígidos.
Segundo o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a ausência de lacre se deveu à grande quantidade e bens apreendidos. Para o relator, sem haver informações sobre adulteração do material recolhido, a simples ausência do lacre não tem a capacidade de anular a diligência e a ação penal.
“A defesa do acusado não alega ou aponta eventual prejuízo, nem sequer afirma qualquer nulidade na decisão que determinou a busca e apreensão, como o descumprimento dos ditames do artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, bem assim que os documentos ou bens apreendidos foram efetivamente corrompidos, limitando-se a inferir/deduzir que a ausência de lacre em todo o material colhido era suficiente para transformar a prova em ilícita e a nulidade em absoluta”, reforçou o magistrado, ao negar o pedido de anulação das provas.
Falta de diligências antes de revista íntima
Diversos outros precedentes foram firmados pelo STJ a respeito da legalidade das diligências policiais. No REsp 1.695.349, a Sexta Turma considerou ilícita a prova obtida por meio de revista íntima realizada com base unicamente em denúncia anônima. Segundo o processo, com base em denúncia de que a acusada tentaria entrar no presídio com drogas, os agentes penitenciários submeteram-na a revista íntima e encontraram cerca de 45 gramas de maconha na vagina.
O ministro Rogerio Schietti afirmou que, sem diligências prévias para apurar a plausibilidade da informação anônima, não seria possível autorizar a realização da revista íntima, sob pena se esvaziar o direito constitucional à intimidade, à honra e à imagem da pessoa.
“Em que pese eventual boa-fé dos agentes penitenciários, não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a realização de revista íntima. Eis a razão pela qual são ilícitas as provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como todas as que delas decorreram (por força da teoria dos frutos da árvore envenenada), o que impõe a absolvição dos acusados, por ausência de provas acerca da materialidade do delito”, concluiu o magistrado.
Outro aspecto que gera controvérsias judiciais em investigações é o encontro casual de provas – a teoria da serendipidade. No RHC 117.113, a Quinta Turma definiu que são válidas as provas encontradas ao acaso pela polícia, relativas a crime até então desconhecido, durante diligência regularmente autorizada para a obtenção de provas de outro crime, ainda que os investigados ou réus em cada caso não sejam os mesmos.
De acordo com o colegiado, o encontro fortuito de provas é válido mesmo que não exista conexão ou continência entre os crimes e o delito descoberto não cumpra os requisitos autorizadores da diligência, e desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.